Twisted Sister cancela turnê e não virá para o Bangers Open Air

O cancelamento da turnê comemorativa de 50 anos do Twisted Sister provocou reflexos diretos no calendário de grandes festivais, incluindo o Bangers Open Air 2026. A banda anunciou a suspensão de todos os shows previstos, entre eles apresentações no Brasil, após a saída repentina e inesperada do vocalista Dee Snider, motivada por uma série de problemas de saúde. A agenda começaria em abril e seguiria ao longo do verão no hemisfério norte. Em comunicado oficial, assinado por Jay Jay French e Eddie Ojeda, o Twisted Sister afirmou que o futuro da banda será definido nas próximas semanas. A nota pede que os fãs fiquem atentos a novas informações e deixa claro que, no momento, não há previsão para a retomada da turnê de aniversário. A decisão frustra expectativas em torno de uma das celebrações mais aguardadas do hard rock nos últimos anos. No caso do Bangers Open Air 2026, as notícias de cancelamento foram além. A produção do festival confirmou que Eluveitie e Cobra Spell não irão mais se apresentar nesta edição, adiando para 2027. Segundo a organização, todos os esforços foram feitos para manter as bandas confirmadas, mas desafios externos inviabilizaram a participação. As duas novas atrações que ocuparão essas vagas, bem como um novo headliner serão anunciadas nesta quinta-feira, 6 de fevereiro.
Entrevista | The Hives – “Ouvir AC/DC é uma experiência formativa”

O The Hives está no Brasil como banda de abertura dos shows do My Chemical Romance, acompanhando a turnê que marca o retorno do grupo norte-americano aos palcos do país. Mas, não são uma simples abertura. Conhecidos pela energia explosiva ao vivo e pela postura provocadora, os suecos reforçam sua conexão com o público brasileiro em apresentações que têm atraído atenção tanto dos fãs mais antigos quanto de uma nova geração. Além da turnê, a banda vive um momento criativo celebrado pela crítica. Lançado no ano passado, The Hives Is Forever, Forever The Hives foi recebido com entusiasmo e reafirma a identidade do grupo, unindo urgência punk, riffs diretos e o humor ácido que sempre definiu sua trajetória. O disco também marca uma fase de maturidade, sem abrir mão da intensidade que transformou o The Hives em um dos nomes mais reconhecíveis do rock dos anos 2000. O Blog N’ Roll esteve ontem (4) na Casa Rockambole, em São Paulo, conversando com o The Hives sobre as principais influências que moldaram o som da banda, passando por nomes fundamentais do punk e do rock clássico, além de histórias pessoais que ajudam a entender a construção dessa identidade barulhenta, direta e sem concessões que segue ecoando nos palcos ao redor do mundo. Ramones Pelle Almqvist – Os Ramones foram muito importantes para nós. Mas, curiosamente, os Ramones que mais nos marcaram foram os do período mais tardio, como os discos lançados quando éramos jovens, tipo Mondo Bizarro e Brain Drain. Nós gostávamos muito dessa fase. Acho que nenhum de nós chegou a ver os Ramones ao vivo. Eu, pelo menos, não vi. Eles influenciaram a gente, mas talvez de uma forma ainda maior, influenciaram praticamente todas as bandas que a gente gostava. É quase uma influência de segunda mão. Eles fizeram com que o que fazemos hoje pudesse existir. Com músicas como Blitzkrieg Bop, fica claro como eles ajudaram a definir uma linguagem inteira do rock. Se fosse apenas essa música no disco, já teria sido suficiente. É um clássico absoluto. AC/DC Pelle Almqvist – Antes mesmo dos Ramones, o AC/DC foi fundamental para nós. Quando eu e o Niklas éramos crianças (Pelle, vocalista e Niklas, guitarrista são irmãos), morávamos na mesma casa e o AC/DC foi a primeira banda que gostamos por conta própria. Niklas Almqvist – A gente ouvia o que os garotos mais velhos da rua ouviam, e esse disco estava sempre tocando. Eu nem sabia os nomes das músicas, só colocava o vinil e ouvia tudo. Ouvir AC/DC é uma experiência formativa. Back in Black é um clássico absoluto e tem uma das melhores introduções da história do rock pesado. Hells Bells é icônica. Eles começam com sinos e depois você fica pensando: o que eles vão fazer depois disso? Curiosamente, Hells Bells virou a música de entrada do São Paulo Futebol Clube, porque o goleiro Rogério era um grande fã do AC/DC… Pelle Almqvist – Também é tema de vários eventos esportivos. Sempre que começa, dá uma sensação de boas notícias. Você mora em Santos, mas torce para o São Paulo? Não dá problema? De jeito nenhum, é bem comum (risos). Agora falem um pouco sobre outra lenda punk, os Misfits Pelle Almqvist – Misfits é sempre complicado, porque existem muitas fases e muitos discos diferentes. Eu acabo ouvindo mais as coletâneas. Tem músicas incríveis como Attitude, Bullet e Some Kind of Hate. Essa última é uma das minhas favoritas. Ela lembra Teenage Kicks, mas mais suja, mais agressiva. Eles foram uma influência enorme para nós. Com certeza estão no nosso top 5 de bandas punk, talvez top 3, talvez até top 1. É uma música feita “errada” em muitos aspectos técnicos, mas ainda assim é a melhor música já gravada. Isso é o punk em sua essência. Mantendo o punk, vamos falar sobre Dead Kennedys Pelle Almqvist – Somos muito influenciados pelo Dead Kennedys, especialmente no primeiro álbum do The Hives, Barely Legal. Há muita coisa de guitarra inspirada neles. Sempre adoramos a guitarra do East Bay Ray. Eles são uma banda incrível, ainda que um pouco irregular. Existe uma diferença grande entre as melhores e as piores músicas, mas, mesmo assim, estão entre as maiores influências punk para nós. Niklas Almqvist – Muitas dessas bandas, na verdade, eu só fui ter os discos em vinil bem mais tarde, talvez com 22 ou 25 anos. Antes disso, era tudo em fita cassete. E eu trouxe um vinil do Millencolin para representar a cena da Suécia. Como é a relação entre vocês? Pelle Almqvist – Essas bandas suecas estavam por perto quando começamos. Estávamos no mesmo selo, vinham de cidades próximas, mais ou menos uma hora de distância. Eles eram dois ou três anos mais velhos do que nós e já estavam começando a fazer sucesso. Eram uma das melhores bandas que você podia ver ao vivo na região onde crescemos. Foi a primeira banda do nosso universo a alcançar um sucesso mais mainstream. Isso foi importante, porque mostrava que era possível. Hoje em dia, somos amigos e sempre é divertido dividir o palco com eles. E qual a expectativa para os shows no Allianz? Pelle Almqvist – Nós já fizemos alguns shows em estádios na América do Sul e foi incrível. Não achamos que dessa vez será diferente. É o mesmo que quando perguntam o que as pessoas devem esperar dos nossos shows. A resposta é nada, além do melhor absoluto. Com o público brasileiro é a mesma coisa. Não esperamos nada além do melhor absoluto. E esperamos que tudo seja ainda maior.
Fiddlehead e Rival Schools terão Zander e Capote como abertura em show único no Brasil
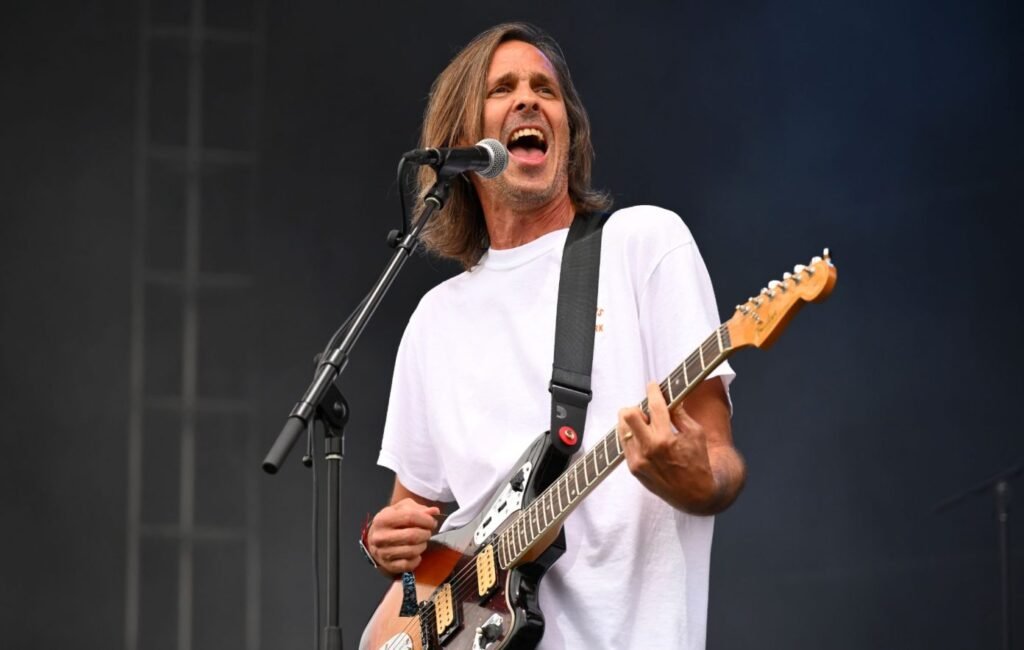
Fiddlehead e Rival Schools, dois nomes centrais do rock alternativo e do pós-hardcore em gerações diferentes, fazem uma aguardada dobradinha no Brasil no dia 22 de fevereiro, com apresentação única em São Paulo. O encontro acontece no Fabrique Club e reúne, no mesmo palco, uma das bandas mais relevantes do rock contemporâneo e um dos projetos mais influentes surgidos no início dos anos 2000. Formado em Boston em 2014, o Fiddlehead rapidamente se consolidou como um dos grupos mais expressivos do rock atual. Liderada por Patrick Flynn, também conhecido pelo trabalho no Have Heart, a banda constrói uma sonoridade que une a urgência do hardcore, melodias herdadas do alternativo dos anos 1990 e uma entrega emocional marcada pelo emo. Conversamos com ele recentemente que abordou a expectativa de tocar no Brasil e sobre a influência da filosofia em seu trabalho e vida. O álbum mais recente, Death Is Nothing To Us, recebeu ampla aclamação da crítica internacional e reforçou a reputação do Fiddlehead como uma banda que alia intensidade sonora e densidade lírica. Já o Rival Schools carrega uma trajetória fundamental na consolidação do pós-hardcore moderno. Criada em 1999, a banda reúne músicos com histórico decisivo na cena hardcore, com destaque para Walter Schreifels, ex-Gorilla Biscuits e Quicksand. Ao longo dos anos 2000, o grupo se destacou ao combinar a energia do punk e do hardcore com estruturas melódicas mais acessíveis, criando um rock potente, emocional e livre de fórmulas. Em um período marcado por excessos e artificialismos no rock mainstream, o Rival Schools apostou em criatividade, identidade e força ao vivo, características que seguem definindo sua relevância até hoje. O evento em São Paulo ganha ainda duas bandas nacionais como atrações de abertura. O Zander retorna aos palcos após encerrar a turnê de 15 anos do álbum Braza e prepara um show em formato “best of”, reunindo diferentes momentos de sua discografia. Já a Capote, banda formada em 2023 na cidade de Santos, representa a nova geração do rock alternativo brasileiro, misturando indie, emo e guitarras intensas em um repertório autoral que vem chamando atenção da cena independente. Os últimos ingressos estão à venda no site da Fastix. A realização é conjunta entre Powerline Music & Books e ND Productions.
Entrevista | Fiddlehead – “A maior influência brasileira na minha vida é Paulo Freire”

Pela primeira vez no Brasil, a Fiddlehead desembarca em São Paulo para um show único que marca a estreia de uma das bandas mais relevantes do rock alternativo contemporâneo. Formado em 2014, em Boston, pelo vocalista Patrick Flynn e o baterista Shawn Costa, ambos ex-Have Heart, o grupo construiu uma identidade própria ao misturar a urgência do hardcore com melodias do rock alternativo dos anos 1990 e a carga emocional do emo. Em álbuns como Death Is Nothing To Us, a banda ampliou ainda mais seu alcance ao unir intensidade sonora, lirismo reflexivo e referências filosóficas pouco comuns no gênero. O show acontece no domingo, 22 de fevereiro de 2026, no Fabrique Club, em São Paulo, e reúne três gerações do rock alternativo e do hardcore. Além da Fiddlehead, o evento conta com o Rival Schools, banda histórica liderada por Walter Schreifels, nome fundamental do hardcore e do pós-hardcore desde os anos 1980, e com duas representantes da cena nacional: o veterano Zander, que apresenta um repertório especial após a turnê de 15 anos do álbum Braza, e a Capote, banda santista formada em 2023 que vem chamando atenção pela fusão entre indie, emo e rock alternativo. Em entrevista ao Blog N’ Roll, o vocalista Patrick “Pat” Flynn fala sobre a expectativa para a estreia da Fiddlehead no Brasil, a relação artística com o Rival Schools e os temas centrais de Death Is Nothing To Us, álbum marcado por reflexões sobre vida, morte, educação e esperança. Não é sua primeira vez aqui, porém será a primeira vez da Fiddlehead no Brasil. O que esperar sobre o público brasileiro? A minha antiga banda, Have Heart, tocou no Brasil há cerca de 20 anos, e foi uma das experiências mais intensas que já tive. Tocamos no mundo inteiro, mas o Brasil foi um dos lugares mais caóticos e especiais. Havia uma sensação muito forte de amizade, o que no punk é a melhor combinação possível. Nos últimos anos, muitas pessoas começaram a comentar nas redes pedindo para a Fiddlehead vir para o Brasil. Não existe nada mais motivador do que alguém dizer “venha tocar aqui”. Finalmente conseguimos fazer isso acontecer, mesmo sendo uma banda que não toca tanto, porque todos nós temos nossas vidas fora da música. O som da Fiddlehead mistura de tudo um pouco: hardcore, post-hardcore, alternativo e emo sem soar nostálgico. Como vocês equilibram essas influências e deixam tudo com uma cara mais moderna? Nós simplesmente tentamos escrever músicas que gostamos de ouvir. Não escrevemos pensando no público, mas temos a sorte de que as pessoas se conectaram com isso. Quando você sente que tem essa permissão, fica mais fácil criar algo honesto, que reflete quem você é, tanto liricamente quanto musicalmente. Todos viemos do hardcore, mas amamos várias formas de música punk. Isso nos permite escrever sem ficar presos a um gênero ou a regras específicas. Já que vocês fazem do jeito que gostam, como funciona o processo de gravação da banda? As músicas chegam prontas ao estúdio? É um processo muito colaborativo. Alguém aparece com um riff, manda pelo celular, e se gostarmos, começamos a desenvolver juntos. É raro alguém escrever uma música inteira sozinho. Depois que a estrutura está pronta, eu levo a música comigo por um tempo, e aí fica mais fácil escrever as letras. No estúdio, todo mundo está aberto a mudar direções, desde que faça sentido para a banda. O hardcore nasceu com a força da juventude, amadureceu e mudou com o passar dos anos. O que daquela época você vê como essencial hoje? Acho que o hardcore está em um momento muito positivo. Bandas como Turnstile ajudaram a mostrar para o mundo o que o hardcore tem de melhor: criatividade, juventude e energia positiva. O foco precisa continuar sendo esse, manter o gênero útil, criativo e relevante. Vocês vão dividir o palco com o Rival Schools. Como você enxerga essa conexão entre as bandas? O Walter Schreifels é uma lenda. Toda a banda é, de alguma forma, produto do trabalho dele. Somos grandes fãs do Rival Schools, então foi uma surpresa incrível tocar com eles no ano passado. Criamos uma relação muito boa, conversamos bastante sobre música. Quando soubemos que poderíamos repetir isso na América Latina, foi ainda mais especial. Em Death Is Nothing To Us, as letras falam muito sobre morte, mas nunca de forma negativa. Como foi trabalhar essa abordagem? Existe uma frase do filósofo Cornel West que sempre me marcou: “Eu não sou um otimista, mas sou escravo da esperança”. Isso define muito como eu vejo a vida. Perder pais e amigos é algo profundamente doloroso, mas eu fiz a escolha de procurar essas pessoas na minha vida, mesmo sem a presença física delas. Essa mentalidade me ajudou a atravessar muitos momentos difíceis e chegar a um lugar de felicidade real. Já que você mencionou a filosofia, referências como Lucrécio e Jean Améry são incomuns no hardcore. Como isso entra na sua escrita? Eu sou professor de História e filho de um professor de poesia. Cresci cercado por palavras e pelo poder delas. Não leio poesia o tempo todo, mas tento enxergá-la na vida cotidiana. Quando encontro escritores ou filósofos que me ajudam a ver beleza e significado nas coisas comuns, eu mergulho fundo neles. Isso acaba se refletindo naturalmente nas letras. Existe alguma história de bastidor importante por trás de Death Is Nothing To Us? O título surgiu de forma curiosa. Eu estava escrevendo as letras enquanto participava de uma troca de livros no trabalho. O livro que peguei citava Lucrécio e a ideia de que a morte não é nada para nós, no sentido de não ficarmos obcecados por ela, mas focarmos na importância da vida. Isso acabou conectando tudo o que eu vinha escrevendo desde os discos anteriores. Quando escreve sobre temas sensíveis como morte, você sente vontade de ir para um lado mais leve ou continuar explorando temas profundos? Um pouco dos dois. Eu amo rir, me divertir com amigos, mas a vida não
Anônimos Anônimos assina com a Forever Vacation e lança single “Eu Lembro”

A banda paulistana Anônimos Anônimos entra em uma nova fase com o lançamento de “Eu Lembro”, primeiro single do álbum de estreia Acabou Sorrire, previsto para maio. A faixa marca também a estreia do grupo no catálogo da Forever Vacation Records, selo criado pelo músico e produtor Alexandre Capilé e que vem se consolidando como um dos espaços mais ativos do rock alternativo brasileiro fora do circuito mainstream. “Eu Lembro” funciona como um cartão de visitas direto para o disco. A canção aposta em melodias emotivas e letras confessionais, dialogando com o alternative rock do fim dos anos 1990 e início dos 2000, em referências que passam por nomes como Jimmy Eat World e Saves the Day, mas filtradas por uma sensibilidade contemporânea e local. O single chega acompanhado de um videoclipe dirigido por Rick Costa, com foco na performance da banda, reforçando o caráter direto e despojado da música. Segundo o vocalista e guitarrista Flávio Particelli, o disco nasce de um processo de depuração estética e emocional. As músicas priorizam melodias fortes e letras pessoais, caminho que a banda identifica como o ponto em que sua identidade se manifesta com mais clareza. O título do álbum faz uma referência irônica a Acabou Chorare, dos Novos Baianos, e traduz o tom introspectivo do repertório, que equilibra melancolia, autoironia e maturidade artística. O lançamento de “Eu Lembro” inaugura a sequência de singles que antecede a chegada do álbum completo, previsto para maio. Até lá, o Anônimos Anônimos apresenta um trabalho que consolida sua identidade dentro do rock alternativo nacional e aponta para um novo momento criativo, agora com estrutura, produção e circulação ampliadas.
Lollapalooza Brasil divulga o lineup separado por palco

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou a programação dos palcos nesta terça-feira (03), exclusivamente por meio de seu aplicativo oficial. O lineup completo, dividido por localização, antecipa parte da experiência para o público mais atento e reforça a estratégia de engajamento direto com os fãs antes do anúncio da grade oficial com ordens e horários. A separação das atrações por palco ajuda a desenhar melhor o mapa musical do evento, tradicionalmente conhecido por equilibrar grandes nomes internacionais, artistas em ascensão e representantes fortes da cena brasileira. A organização mantém a curadoria diversa como marca registrada, distribuindo estilos e propostas ao longo dos diferentes espaços do Autódromo de Interlagos. Os palcos principais são o Budweiser, que recebe o principal artista da noite, e o Samsung Galaxy, que recebe o sub-headliner. Completam a festa o Perry’s by Fiat, dedicado ao eletrônico, e o Flying Fish, que recebe artistas em ascenção. A revelação antecipada no app, portanto, funciona como um primeiro panorama do festival, abrindo espaço para especulações, apostas do público e a construção de expectativas até que a programação detalhada seja anunciada. Se você vai só pelas atrações de Rock, preparamos um guia exclusivo com todas as bandas relacionadas ao gênero que estarão no Festival. Confira abaixo o lineup do Lollapalooza Brasil separado por dia e palco: Sexta 20.03 BudweiserSabrina CarpenterDoechiiBlood OrangeNegra Li Samsung GalaxyDeftonesInterpolViagra BoysTerraplana Perry’s By FiatKygoBen BohmerBrutalismus 3000DJ Diesel Aka ShaqHorsegirlAline RochaATKÖBruna StraitCamila Jun Flying FishEdson GomesRuelScaleneWorst Sábado 21.03 BudweiserChapell RoanLewis CapaldiMarinaAgnes NunesJadsa Samsung GalaxySkrillexCypress HillFoto em GrupoVarandaHurricanes Perry’s By FiatBrutalismus 3000MU540Bunt2HollisN.I.N.A.HamdiFebre 90sBlackhatCrizin da Z.O.Marcelin O BraboArtur Menezes Flying FishTV GirlRiizeMen I TrustThe WarningCidade Dormitório Domingo 22.03 BudweiserTyler The CreatorTurnstileDjoMundo Livre S/APapisa Samsung GalaxyLordeAddison EraRoyel OtisNina MaiaJonabug Perry’s By FiatPeggy Gou¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$UROZZopelarIdlibraAlirioAnaluEntropia Flying FishKatseyeFBCBalu BrigadaOruãPapangu
Entrevista | D.R.I. – “Nunca pensamos em abandonar o punk. Só queríamos usar todas as nossas influências juntas”

O D.R.I. está de volta ao Brasil. Formado no início dos anos 1980, no Texas, a banda é uma das bandas mais influentes da história do hardcore punk e do thrash metal. Inicialmente associado ao hardcore rápido e direto, o grupo acabou se tornando referência mundial ao fundir esse estilo com elementos mais pesados do metal, ajudando a definir o que viria a ser conhecido como crossover. Ao longo de mais de quatro décadas, o D.R.I. construiu uma trajetória marcada por turnês incessantes, letras críticas e uma ética independente que influenciou gerações de músicos ao redor do mundo. Em entrevista ao Blog N’Roll, o vocalista Kurt Brecht fala sobre a evolução musical do grupo, a criação do termo crossover, a forma como a tecnologia transformou a vida em turnê e o impacto contínuo do D.R.I. tanto nas cenas punk e metal quanto em novas gerações de bandas que ainda hoje se inspiram em sua postura e agressividade, além dos shows no Brasil. O D.R.I. se apresenta no Brasil nas seguintes datas e cidades:São Paulo – 22/03 com o Ratos de Porão no Cine JoiaPorto Alegre/RS – 17/03/2026 no OcidenteCuritiba/PR – 19/03 no Tork n’ RollRio de Janeiro/RJ – 20/03 no Circo VoadorBelo Horizonte/MG – 21/03 no Mister Rock O D.R.I. nasceu de um senso de urgência criativa muito forte nos anos 80. O que daquele pensamento inicial da sua juventude ainda guia a banda hoje? A diferença é que, quando você é jovem, tudo é diferente. Com o tempo, aprendemos muitas coisas sobre turnês, sobre o negócio da música e sobre como tudo funciona. Hoje é muito mais fácil divulgar seus próprios shows usando a internet. Antigamente, para montar uma turnê pelos Estados Unidos ou para vir ao Brasil, era tudo feito por telefone ou cartas, esperando que alguém divulgasse o show e que as pessoas ficassem sabendo. Hoje você consegue garantir que o público tenha informação, e isso facilita muito. O Brasil tem uma relação longa com o D.R.I. O que você mais lembra da primeira vez que tocou aqui? A incerteza, eram outros tempos. Você nunca sabe se tudo vai funcionar, se vai receber pagamento, se o show vai ser bom. Existe muita incerteza quando você toca pela primeira vez em outro país, especialmente. O Brasil tem uma cena punk muito forte. Como você percebe a energia do público brasileiro em comparação com outros países? A América do Sul, em geral, sempre rende shows muito bons e muito enérgicos, e o Brasil está incluído nisso. É sempre muito divertido. Nessa mesma viagem, também tocamos na América Central. Existe algum show do D.R.I. no Brasil que se destaca como o mais intenso ou inesquecível? Existem muitos, mas para destacar um, tocamos uma vez em Belo Horizonte com o Misfits e o Sepultura. Foi em um estádio ao ar livre, fazia muito calor, mas foi um show enorme e muito divertido. Falando sobre a conexão com o Ratos de Porão, em que momento você percebeu que essa relação foi além de apenas dividir o palco? Nós simplesmente nos conectamos com eles. Tocamos muitos shows juntos e continuamos tocando. É sempre a mesma coisa: eles trazem um ótimo público, nós também trazemos pessoas, e juntos funciona muito bem. Acho que os fãs realmente gostam de ver a gente tocando juntos. E depois de tantas visitas ao Brasil, ainda existe algo que te surpreende sempre que você volta? Eu gostaria de tocar aqui todo ano, mas nosso agente prefere que a gente venha uma vez a cada três anos. Às vezes tocamos em cidades diferentes, ou em lugares onde não tocávamos há muito tempo. Mas São Paulo é uma cidade que sempre parece fazer parte da rota. É uma cidade grande, com um grande show, algo que sempre fica marcado na memória. É sempre um show insano. Como surgiu o rótulo “crossover” e como foi a recepção do álbum de mesmo nome quando foi lançado? Na verdade, foram os fãs que começaram a chamar nossa música de crossover por conta da mistura de punk e metal. A gente ouviu as pessoas usando esse termo, e foi assim que soubemos. Não fomos nós que criamos o nome, apenas usamos no álbum. Quando Crossover saiu, alguns punks não gostaram, porque as músicas eram mais lentas e tinham mais influência de metal. Por outro lado, ganhamos muitos fãs do metal. Perdemos alguns fãs e ganhamos outros. Em que ponto você percebeu que era possível evoluir musicalmente sem perder a agressividade e a identidade da banda? Acho que isso acontece com qualquer banda. Você escreve músicas que gosta, e se todo mundo na banda gosta, espera que o resto do mundo goste também. Às vezes funciona, às vezes não. Nós crescemos ouvindo metal pesado, então nunca foi uma questão de abandonar o punk. Queríamos usar todas as nossas influências e juntar tudo em músicas que todos nós gostássemos. As letras do D.R.I. sempre foram diretas e críticas. Como você vê essa abordagem hoje? Acho que minhas letras envelheceram bem. Não escrevo todas as letras da banda, mas recentemente lancei um livro com todas as letras que escrevi, organizado de A a Z, além de poesias. Muitas bandas dizem que fomos uma influência musical e lírica, e até os filhos dessas pessoas estão tentando escrever músicas como o D.R.I., o que é um grande elogio. O hardcore e o metal mudaram muito desde os anos 80. O que ainda chama sua atenção nas bandas mais novas? Muitas bandas novas abrem shows para a gente, e eu vou assistir. Às vezes são bandas de death metal ou misturas estranhas de estilos. Se eu gosto, eu gosto. Gosto de bandas que não param, que vêm com tudo. É isso que me chama a atenção. Existe alguma fase da discografia do D.R.I. que você acha que merece ser redescoberta pelos mais novos? Talvez Crossover, mas Dealing With It! também é muito popular e já mostrava um pouco dessa mistura. O D.R.I. sempre soou um pouco diferente das outras bandas,
M. Shadows rebate críticas, improvisa clássico e comanda maratona do Avenged Sevenfold no Allianz

Quando o Avenged Sevenfold assumiu o palco do Allianz Parque para fechar a noite de sábado (31), encontrou um público já completamente aquecido pelas apresentações anteriores. O que se seguiu foi uma maratona: mesmo com um repertório enxuto de 17 músicas, o show ultrapassou duas horas de duração, sustentado por uma produção impecável e pela habitual entrega técnica da banda. No entanto, a noite não foi feita apenas de celebração. O vocalista M. Shadows se mostrou visivelmente irritado com as críticas prévias sobre o setlist, apontado por muitos como bastante similar ao apresentado no Rock in Rio. Resposta às críticas e improviso de “Seize The Day” As reclamações online não passaram despercebidas. Shadows comentou o assunto diretamente no palco, justificando as escolhas artísticas e defendendo a construção narrativa do show atual. Porém, em um gesto claro de respeito e conexão com os fãs, a banda quebrou o protocolo e improvisou Seize The Day, atendendo a pedidos insistentes da plateia. A execução deixou evidente que a faixa não estava ensaiada para o roteiro da noite, mas a promessa do vocalista de tocá-la perfeitamente na próxima vinda ao Brasil foi recebida com entusiasmo, transformando um momento de tensão em cumplicidade. Pedidos de casamento e chá revelação O caráter emocional da apresentação foi reforçado por momentos inusitados que quebraram a rigidez de um show de metal. O palco do Allianz Parque serviu de cenário para um “chá revelação” diante de milhares de pessoas e, pelo menos, dois pedidos de casamento ao longo da apresentação, reafirmando a relação próxima que o grupo mantém com seu público brasileiro. Saldo do Avenged Sevenfold em São Paulo O único ponto que soou como um leve tropeço na dinâmica do espetáculo foi a reta final. A dobradinha formada por Cosmic e Save Me, faixas longas, esta última ultrapassando os dez minutos, acabou esfriando parte da plateia após um show intenso e carregado de energia. Ainda assim, o saldo geral foi altamente positivo. O Avenged Sevenfold consolidou a noite no Allianz Parque como um evento que soube equilibrar espetáculo visual, identidade artística e uma conexão genuína, ainda que por vezes conflituosa, com seus fãs. Setlist do Avenged Sevenfold em São Paulo (31/01)
Fogo e protagonismo no Allianz mostram A Day To Remember pronto para arenas

Na sequência da noite de sábado (31), o A Day To Remember subiu ao palco do Allianz Parque para provar que pode ser uma banda de grandes multidões. O grupo, auto intitulado como a banda mais pesada de pop punk, montou um espetáculo visual claramente pensado para estádios, abusando de fogo, papel picado e pirotecnia, mas sem perder o foco na conexão humana com a plateia. Logo na abertura, The Downfall of Us All confirmou seu status de uma das melhores faixas para início de show da atualidade, elevando a energia do público instantaneamente. Protagonismo dividido Diferente de outras noites recentes de metal no Allianz Parque, como a dobradinha Bullet For My Valentine e Limp Bizkit, onde a disparidade foi notável, o A Day To Remember dividiu muito mais o protagonismo do evento com a atração principal. A resposta dos fãs foi imediata e intensa: grandes mosh pits, refrões cantados em uníssono e uma sensação constante de que a banda não estava ali apenas cumprindo tabela como coadjuvante. O novo e os clássicos O grupo aproveitou a estrutura grandiosa para apresentar faixas do seu álbum mais recente, o Big Ole Album Vol. 01, mesclando-as com os sucessos obrigatórios da carreira. A execução técnica e a presença de palco reforçaram que o ADTR domina a linguagem dos grandes festivais como poucos. Setlist do A Day To Remember em São Paulo (31/01)
